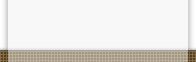| quinta-feira, março 03, 2005 |
| Ana Hatherly em entrevista (continuação) |
AMG - As leituras de Derrida são, no entanto, as de uma teologia zero, do «sempre ausente». Viu desaparecer todos os seus laços afectivos primordiais por meio da morte. Como integra nesse vazio a sua concepção de sagrado?
AH - Com muita dificuldade, mas é preciso aprender e o zen já nos ensinou, como todas as religiões orientais em particular, que a morte tem um estatuto diferente daquele que lhe confere a religião católica. Acreditar na vida para além da morte é um problema que não se conseguiu resolver até agora. O desaparecimento, para mim - e a palavra diz tudo -, é das coisas mais dolorosas que a vida ensina.
AMG - Está também a falar dos mortos-vivos...
AH - Sim, sim, para mim, é a mesma coisa. O mistério do desaparecimento atinge-me da maneira mais profunda. Quando alguém desaparece é indescritível o que se sente. Isto dominou a minha vida toda. Talvez a arte exista para colmatar esse vazio. Criamos porque nos falta alguma coisa. E talvez, por isso, tenha escrito: «Amando muito muito/ficamos sem palavras».
AMG - Numa das suas tisanas (293) escreve: «Então acordo e compreendo que a nossa união nunca se dará porque não é mística nem mítica.» Liga o sagrado à relação com o Outro?
AH - O sagrado é a relação com o Outro, o tal Outro invisível, aquele que nunca se vai encontrar. Não que tenha aparecido, é que nunca chega a aparecer, a não ser que vejamos o sagrado em tudo. Fizeram-no os que cultivam a natureza como representação de Deus, uma das facetas do barroco levada às últimas consequências.
AMG - O sagrado pode passar por um instante, por um rosto?
AH - Obliquamente, sim.
AMG - A ideia de impossibilidade na relação intersubjectiva, particularmente na amorosa, percorre a sua obra, como em «Tisana de preço fantástico». Ou no livro «Rilkeana» e noutros...
AH - Há sempre algo de inatingível. Em «Rilkeana», por exemplo, nas suas variações, não sou capaz de materializar a ideia do anjo. Surge, então, como invenção. Existe uma impossibilidade básica na natureza humana que é sempre uma fracção de qualquer outra coisa. Somos incompletos, não chegamos a atingir, estamos quase a ver e desaparece...
AMG - Funde como ficção e realidade, tendo em atenção essa falta?
AH - A ficção dir-se-ia uma forma de criar um real que não existe. Mesmo os mais materialistas, estão a cobrir-se com o barro das palavras. Porque estas são a representação de uma outra coisa qualquer que não conseguimos representar. A concepção do anjo está na base das «Elegias de Duíno». Mas não é só o que lá está. O que se nota no meu trabalho, particularmente na «Rilkeana», que demorou três anos a criar – só fiz isso e mais nada -, é a possibilidade de aceitar a presença do anjo. Fiz até vários desenhos.. Mas antropomorfizar um anjo é no mínimo um sacrilégio! (risos) Isso tem de ficar noutra zona. O sagrado não é acessível, não se lhe pode pôr a mão. E ainda bem, senão era material.
AMG - Escreve, pelo menos nas «Tisanas», porque algo aconteceu ou acontece, para produzir o acontecer. E noutro tipo de escrita, fá-lo porquê?
AH - Há sempre, no que faço, uma ideia de procura, da origem de qualquer coisa que está no fundo. Quis seguir a carreira musical e fui obrigada a abandoná-la por razões de saúde. Senti uma perda tremenda, um desaparecimento. Essa formação trouxe-me a dimensão do rigor. Quando estive doente, num sanatório da Suiça, o médico disse-me que eu nunca mais iria poder cantar ou tocar, mas aconselhou-me a escrever, que «era mais descansado....» E foi o que fiz.
AMG - Depois veio o experimentalismo... Foi pioneira da poesia experimental. Na sua deriva visual, a erudição sempre acompanhou a produção artística...
AH - Sim, depois entrei para o grupo dos experimentalistas, que reflectia um posicionamento de insubordinação. A minha relação com o Poder foi sempre difícil, tudo o que era subversivo me interessava. Lutar era a posição certa naquela altura, num momento em que, ao nível mundial, surgiam acontecimentos históricos marcantes como os movimentos estudantis dos anos 60, a guerra colonial e a do Vietname, a arte «Pop», a luta das mulheres, a expansão da música rock, etc...
AMG - Como recorda esse período da sua vida?
AH - Como uma época de luta, difícil para todos nós. Eu estava numa fase de recusa de tudo. Havia uma revolta dos jovens, também internacional, e eu empenhei-me profundamente, como faço sempre, tentando aproximar a arte da vida. Paguei um preço elevadíssimo, fui perseguida. Não me importo. Agora acabou, outros que o façam. Não se pode ficar eternamente à frente, e cedo me apercebi de que, por exemplo, o concretismo era redutor. Não existe só uma vanguarda, mas vanguardas sucessivas ao longo dos tempos. Ainda há quem pratique hoje formas do experimentalismo dos anos 60, mas esses são retardatários. A sociedade evolui, as gerações sucedem-se, é preciso dar lugar. Faço outras coisas, tenho outras coisas para fazer.
AMG - Como reagiu este país retrógrado a essa pequena revolução?
AH - Muito mal, muito mal, porque nós queríamos romper com o imobilismo. No prefácio que faço à antologia da minha poesia experimental, «Um Calculador de Improbabilidades», falo disso, incluindo até polémicas que surgiram então, nomeadamente no «Diário de Lisboa», entre outros jornais. O ambiente foi adverso a essa experimentação. Éramos poucos, mas havia uma razão de ser para o movimento: tratava-se de uma tomada de consciência internacional e nacional; contra um «statu quo» intolerável, nos anos 60/70, até ao 25 de Abril. Existia, portanto, uma necessária demonstração da nossa oposição àquilo que se estava a viver, a toda a repressão de que éramos objectos. Com a revolução, a opressão terminou, bem como a censura. A partir daí, colaborei com elementos que revelaram o meu júbilo perante a revolução.
AMG - Os cartazes, por exemplo, alguns estão no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian...
AH - E os filmes, também. Essa intervenção política depois perdeu a importância e eu passei a manifestar-me de outras formas. Até aos anos 80, o experimentalismo foi-se desgastando.
AMG - Mas não só participou desse movimento, como foi, com Eugénio Melo e Castro, um dos principais teorizadores da poesia experimental.
AH - Fomos ambos teóricos, embora não tenhamos sido os originadores do movimento, surgido com António Aragão e Herberto Helder, que se desligou rapidamente. Isso não retira a importância a Melo e Castro, figura muito activa nacional e internacionalmente.
AMG - Com António Aragão e E. M. e Castro, Herberto Helder organizou os «Cadernos da Poesia Experimental Portuguesa». Está um pouco esquecida essa intervenção de Helder...
AH - Mas existiu, a documentação e a correspondência comprovam-no. Salette Tavares, uma mulher difícil, interessante, avançada para o seu tempo, também teve uma contribuição extremamente importante, embora não teorizasse. Coube-lhe, igualmente, a sua dose de contrariedade. Melo e Castro tomou mesmo uma posição partidária, entrou para o Partido Comunista, coisa que nunca fiz. Sempre prezei, acima de tudo, a minha independência. O meu partido é o da liberdade, que defende os valores sagrados do convívio das nações e da natureza. Não se pode estar noutro sítio.
AMG - É interessante situar «O Mestre», novela labiríntica, lado a lado com «Os Passos em Volta», de Herberto Helder, e «Rumor Branco», de Almeida Faria. Aproxima-a de quê? Da necessidade de liberdade, ou continua a não saber o que pensa a seu respeito?
AH - Essa novela surge, no princípio dos anos 60, num momento crucial, ao lado dessas outras duas que referiu, e que modificaram o rumo da ficção portuguesa. Só agora se está a reconhecê-lo, no estrangeiro já aconteceu há muito. «O Mestre» foi tema de várias teses, o Brasil acarinhou-o ao longo de décadas.
AMG - Reconhecimento, quarenta anos depois...
AH - Em Portugal, isso não é nada. «O Mestre» - apesar das suas três edições entre nós - tem sido muito estudado no estrangeiro, especialmente pelos grupos ligados a Jacques Lacan. Trata-se de um exemplo único de novela em que o amor é desmontado, desmitificado, completamente desconstruído pelo humor, mas simultaneamente de um texto profundamente trágico. Em causa está a subversão do Poder, a discípula mata o mestre várias vezes...
AMG - Mas também se mata a si própria...
AH - Matando o mestre, mata-se a si própria, essa é a grande lição. A personagem feminina apaixona-se por um indivíduo que não lhe pode corresponder: é homossexual. Nos anos 60, imagine-se. Tratava-se de matar o pai e o pai é o mestre, não o professor, e com conotações metafísicas. Escrevi a novela em dez dias e não fui capaz de lhe acrescentar uma só linha depois. Zanguei-me com os portugueses - mas isso está sempre a suceder-me -, e, nos anos 80, doei a primeira versão do manuscrito à Biblioteca da Universidade de Upsala. Hoje já não me importa que leiam ou não.
AMG - Estamos na realidade sempre a destruir tudo, como se diz na novela?
AH - O mestre responde: «il ya des choses que’il ne faut pas vouloir.» (risos) Aquele mestre era uma alusão a muitas coisas, mas também ao amor impossível. Desejamos sempre aquilo que não podemos ter...
AMG - Há algo de essencial nesse livro sobre a natureza da criação e a questão da imaginação... Diz, a dado momento, que a imaginação serve para matar ou ressuscitar o que nunca teve realmente vida...
AH - Ah, sim... Desde muito cedo, tive consciência da espinha dorsal de tudo o que faço, da ideia de impossibilidade... A ligação entre palavra e desejo... Há uma coerência interna que, mesmo 45 anos depois, me surpreende. Tinha acabado de começar a publicar, e já lá estava o embrião de tudo o que veio depois. Seguir-se-iam o experimentalismo e outros caminhos diversos. Quando escrevi «O Mestre», estava em Paris, em tratamento. Escrevo muito quando estou no estrangeiro, sobretudo as «Tisanas», que têm uma regra fundamental, a do acontecer. Acontece sempre alguma coisa. O real é uma sucessão de aconteceres. Às vezes, não é uma imaginação transformadora, mas uma visão transformadora. Isso, sim, define a imaginação.
(continua) |
| posted by George Cassiel @ 11:01 a.m. |
|
|
|
|
|
GEORGE CASSIEL
Um blog sobre literatura, autores, ideias e criação.
_________________
"Este era un cuco que traballou durante trinta anos nun reloxo. Cando lle
chegou a hora da xubilación, o cuco regresou ao bosque de onde partira.
Farto de cantar as horas, as medias e os cuartos, no bosque unicamente
cantaba unha vez ao ano: a primavera en punto."
Carlos López, Minimaladas (Premio Merlín 2007)
«Dedico estas histórias aos camponeses que não abandonaram a terra, para encher os nossos olhos de flores na primavera»
Tonino Guerra, Livro das Igrejas Abandonadas |
| |
|
|