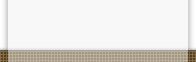| quarta-feira, março 02, 2005 |
| Ana Hatherly em entrevista |
Ana Hatherly: meditações sobre a escrita e o acto criador
Entrevista conduzida por Ana Marques Gastão, para a "Agulha - revista de cultura" (nº 35 - fortaleza, são paulo - agosto de 2003)
A voz de Ana Hatherly é ampla, profunda, a memória dir-se-ia um «conservatório de combates», «grito inaudível» de um «poeta-pintor que com a própria vida cria a sua arte de ver». As palavras riem, porém, e a abertura ao misterioso possui a inocência da criança perante um universo que se desmorona. Reflexão, rigor, concisão, ironia, coerência e a capacidade de estar à frente do seu tempo marcam a existência de um filósofo-escritor que pensa o injustificável, o desejo, a inadequação amorosa, a incomunicabilidade, o desaparecimento, o invisível. A sua obra acaba de ser distinguida com o prémio de poesia Evelyne Encelot (França)) e com o Hanibal Lucica Sonnet Days (Croácia). Doutorada em Literaturas Hispânicas na Universidade da Califórnia, em Berkeley, catedrática da Universidade Nova de Lisboa e especialista do barroco, Ana Hatherly - que acaba de lançar «O Pavão Negro» (Assírio) e «Itinerários» (Quasi), integrando um ciclo de poemas dedicados ao Brasil -, investiga, há mais de 40 anos, o conceito de escrita, nas suas diversas formas: é poeta, pintora, ficcionista, realizadora, ensaísta, integrando-se na corrente experimentalista dos anos 60. Abriu-se, todavia, a outros caminhos. «O Mestre», «Tisanas», «Eros Frenético», «Anagramático» são obras únicas da literatura portuguesa, bem como é singular a sua exploração da visualidade do texto. No olhar de Ana Hatherly, de um azul vítreo, pode ler-se a visão justa e rigorosa; mas também o fogo se adivinha, contido e um pouco distante, a tragicidade límpida e lúcida, a «loucura do ver» e a não resignação, porque existe uma erótica do andar. Que possuem os escritores, afinal, escreveu Yeats, senão «os seus cegos e estupefactos corações»? [A.M.G.]
AMG - «Não é no espelho que devemos observar-nos. Homens, contemplem-se no papel.» Nestas palavras de Michaux, está uma síntese daquilo que poder ser considerado a sua obra, exploradora do conceito de escrita. Concorda?
AH - A frase tem muito a ver comigo. De certa maneira, pertencemos a uma mesma família, só que Michaux integra a família surrealista e eu não. Vem do automatismo e da droga e do debruçar-se sobre si próprio com o alheamento do real. Eu não venho da droga, do alheamento do real, venho só de dentro, um outro dentro diferente do dele. O meu dentro resulta, pelo menos no trabalho, de uma meditação sobre a escrita e o acto criador. Interessa-me tentar aprofundar o que é o mistério da criatividade. O que se cria, como se cria... Isso está na base do que faço.
AMG - Mas há esse lado da contemplação no papel que traz a contemplação de um vulto. Onde está esse vulto?
AH - Essa a minha relação com o real, não só no sentido do acontecimento, mas do próprio Homem. A confrontação do artista com a pessoa. Quem cria é necessariamente uma pessoa com toda uma história cultural por trás. Ninguém nasce do nada. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade dir-se-ia a descoberta de um lado nunca conhecido, tendo algo que ultrapassa a dimensão normal do humano. Sobre esse mistério, tento debruçar-me. Cada vez que escrevo ou pinto, há sempre uma descoberta.
AMG - Consegue entrelaçar essa ideia da relevância estrutural da escrita - englobando poesia, pintura, cinema -, com a criança que foi Ana Hatherly, de aparência nórdica, mas nascida no norte do país?
AH - Não tive uma infância feliz, foi muito solitária, sem irmãos, sem ninguém da minha idade com quem brincar, numa época em que a educação era muito severa dentro da burguesia. Mais tarde, fiquei muito grata por essa severidade, porque preparou-me para as agruras que vieram. Havia, no entanto, aspectos mágicos. A minha avó, que me educou, contava histórias que ainda hoje sei de cor. Depois vivia-se toda uma tradição cultural da época, muito da região do norte, crescia-se em casa com as criadas, convivia-se com a religião. Existia um conceito do sagrado, do divino e, sobretudo, do ritual. O ritual foi muito importante na minha formação. Lembro-me quando minha avó me levava às igrejas, pelo menos a uma delas, do séc. XVIII, que ainda hoje existe, a Capela das Almas. Aquelas novenas ao fim de tarde no mês de Maio cheias de flores e incenso... Eu via os anjos a dizerem-me adeus com a mão. Tinha alucinações. Na adolescência, recusei esse tipo de conhecimento. Passados anos, reconheci o erro e estou muito grata por me terem dado acesso a essa forma de cultura. Muitos dos meus alunos não a tiveram e são muito mais pobres.
AMG - O que nos leva às suas raízes assentes no barroco. O artista barroco vê - di-lo em «O Ladrão Cristalino» - o invisível, procurando mostrá-lo. Neste dentro-fora, evolui a sua actividade que pensa as palavras, o seu clamor, como diz num dos seus poemas?
AH - É exactamente isso: procuro esse diálogo impossível entre o visível e o invisível. A criatividade passa por aí, ou mesmo a relação com o sagrado, por querer tornar visível o invisível, o que talvez nunca seja totalmente possível. Não se trata necessariamente de querer ver, mas de ver por dentro.
AMG - Tendo em conta que letras e artes se associam numa perspectiva barroca, a escrita não nasce, porém, para si, apenas do jogo intelectual, da subversão pelo riso, pois não? Há distância, rigor, mas dentro de uma tragicidade...
AH - Isso é profundamente verdade. O riso vem do espírito lúdico do barroco, vivi na infância rodeada de formas do barroco, até na casa onde vivíamos. Ainda hoje vivo. Trata-se de uma arte que vai mais longe, embora se pense nela como decorativa, ligada aos palácios, ou seja ao Poder. Quando comecei a conhecer a literatura, apercebi-me disso. O que mais me impressionou foi a inteira dedicação àquilo que se faz, a possibilidade de brincar na profundidade absoluta. Fazendo-o, tocamos a raiz das religiões mais antigas. O próprio zen baseia-se no riso. Mas que espécie de riso? Não o riso sem consequências. Já Freud o explicou. Os barrocos são artistas - seja na pintura, na literatura ou na música -, de um rigor absoluto. Não se pode fazer nenhum jogo sem uma regra muito precisa, porque de outro modo não há jogo, mas dispersão. E o barroco é uma arte do rigor, veja-se Bach.
AMG - O que nos leva às suas raízes musicais...
AH - Estudei música e quis especializar-me em música barroca. Com essa arte aprendi a severidade e o desejo de segurança técnica que me ajudaram em tudo o que faço. Essa disciplina, esse rigor, foram-me incutidos na infância.
AMG - Como se o privilégio de uma estética passasse pela clarificação da continuidade entre temporalidade e eternidade, entre matéria e espírito?
AH - Esse dir-se-ia ser o fundamento do barroco e do meu trabalho. Ao assimilar-se o rigor, está-se livre para brincar ou não. Tudo é jogo, a vida é jogo, no sentido metafísico, na medida em que há uma regra para um desempenho que pode ser em duelo ou não. Vivo na fronteira entre o diálogo e o duelo com tudo. Esse é o lado subversivo do meu trabalho. Estou justamente em duelo pelo extremo rigor da minha vontade de compreender e de exprimir.
AMG - Falou de duelo. Refere-se também às relações de poder entre as pessoas?
AH - Sim, claro, isso também vem do barroco, época que, devido à presença forte da Igreja, à nossa cultura, à tradição ocidental, está cheia de figuras de Poder. Nasci no tempo do salazarismo, aprendi, por isso, quais as consequências funestas de quem enfrenta um poder absoluto. Fui dominada pela rebeldia, pela vontade de me insurgir contra tudo.
AMG - Diz, a certa altura, em «O Pavão Negro» (que, por assim dizer, prolonga «A Idade da Escrita»): «Enlouquecidos pela dor/cobrimo-nos com o barro das palavras.» Escreve, pinta, cria num processo inverso ao da dor?
AH - Paralelo. Não há criação sem dor, pode ter-se mais ou menos consciência disso, dependendo do tipo de profundidade que se atinja ou se procure atingir. O meu trabalho tem uma dimensão metafísica e essa tem de ser necessariamente dolorosa.
AMG - Pensar sobre a natureza da poesia, da música, da arte é, em última análise, colocar questões teológicas ou metafísicas?
AH - Não tanto teológicas, mas metafísicas sim, de certeza.
AMG - Por isso o filtro dos mestres zen na sua obra, aliada a uma tradição do pensamento ocidental?
AH - É também uma contradição. Interessei-me, na verdade, pelas religiões orientais, não foi só o budismo, estudei-as cuidadosamente nos anos 60, quando isso era fundamental e surgia como tendência da época. Tratava-se de uma forma de subversão, de contrariar a minha religião profundamente ocidental, católica. Hoje, não sou obrigada a praticar nenhuma, porque reconheço um princípio superior a todas as elas. Esse é o aspecto que me interessa, o divino, o sagrado, desenquadrado do institucional. Aprendi, no entanto, alguma coisa com todas as confissões religiosas.
AMG - D. H. Lawrence disse que é necessário ser terrivelmente religioso para ser artista...
AH - Religioso e erótico. Não há nenhuma religião verdadeiramente desligada do erotismo, acontece no catolicismo, na religião cristã. Vemos isso nos escritos barrocos, sobretudo nos das freiras. Estudei muito a escrita das mulheres. Há um erotismo extraordinário na poesia «a lo divino». São textos deliciosos, sobretudo, os de Soror Maria do Céu, sobre quem fiz a minha tese de doutoramento. Continuo a realizar, nessa área, um trabalho de investigação com ex-alunas minhas já doutoradas: estou a projectar uma grande antologia de poesia barroca temática: começando com as aves, flores, frutos, pedras preciosas, etc..., o que nos levará depois ao contraste entre amor humano e amor divino, presente numa Santa Teresa de Ávila ou num São João da Cruz. Mas há que entender esses textos num sentido elevado. O erotismo é uma das forças da criação. Não há criação sem erotismo.
AMG - Está a falar de um êxtase?
AH - De um profundo empenhamento do corpo e da alma. Essa é a grande criação que nos emocionou ao longo dos tempos. Sem entrega não há criação.
AMG - Acredita, então, numa dimensão sagrada da palavra?
AH - É a sua dimensão autêntica, embora nos esqueçamos dela, até no domínio da fala. A poesia ensinou-me a importância, não só dos valores estéticos, políticos e sociais, mas, sobretudo, dos sagrados. Eu, que passei tantos anos a defender e a praticar a visualidade do texto, chamando a atenção para as palavras escritas como representação de algo, hoje, ao fim de 45 anos de publicação, estou a regressar ao valor oral do poema, para que este volte a adquirir a sua importância original. Não estou a referir-me à fala no diálogo, mas à fala em poesia. Quem escreve para teatro ou cinema sabe o que isso é. Ao sermos obrigados, já secularmente, a ler em voz baixa, o que no passado não se fazia, porque era considerado diabólico - coisa que poucas pessoas sabem -, perdemos uma dimensão do sagrado. Podemos escrever textos para serem lidos em silêncio ou ditos em voz alta. O escritor tem à sua disposição três aspectos fundamentais: a escrita para ser lida, ou ouvida, ou entendida como desenho, representação de um gesto humano, mesmo que seja tipográfico ou no computador. Ainda é a mão humana a funcionar nesses casos. Quando passarmos à fase em que apenas falamos e o computador já escreve, ainda conseguirá impôr-se a força da voz humana. Há toda uma gama que não tem sido entendida e valorizada na sua totalidade. Eu, que pratico a visualidade - a escrita muda -, estou a tentar desenvolver esses aspectos. Estão a vulgarizar-se, no mundo inteiro, os recitais de poesia. Sente-se cada vez mais a importância da voz.
AMG - A que atribui esse fenómeno?
AH - À perda de importância do ser humano como indivíduo. Ver alguém a falar e a dizer é algo muito diferente de vermos essa mesma pessoa num aparelho de televisão. A singularidade individual da voz é aquilo que o distingue, até no plano do sagrado.
(Dada a dimensão da entrevista, publicá-la-ei em posts posteriores)
Ana Marques Gastão (Portugal, 1962). Poeta e crítica de literatura. Autora de livros como Terra sem mãe (2000), Nocturnos (2002) e A definição da noite (2003). Entrevista originalmente publicada no suplemento Dna, do Diário de Notícias (Lisboa, 12/07/2003) |
| posted by George Cassiel @ 10:27 a.m. |
|
|
|
|
|
GEORGE CASSIEL
Um blog sobre literatura, autores, ideias e criação.
_________________
"Este era un cuco que traballou durante trinta anos nun reloxo. Cando lle
chegou a hora da xubilación, o cuco regresou ao bosque de onde partira.
Farto de cantar as horas, as medias e os cuartos, no bosque unicamente
cantaba unha vez ao ano: a primavera en punto."
Carlos López, Minimaladas (Premio Merlín 2007)
«Dedico estas histórias aos camponeses que não abandonaram a terra, para encher os nossos olhos de flores na primavera»
Tonino Guerra, Livro das Igrejas Abandonadas |
| |
|
|