| segunda-feira, março 07, 2005 |
| Ana Hatherly em entrevista (continuação 2) |
AMG - «Escrever é querer descobrir o próprio vulto». Isso basta-lhe?
AH - Sou obrigada a isso.
AMG - Sempre num caminho de instabilidade?
AH - Como o melro que na minha varanda salta pelo jardim num hotel de cinco estrelas: «(...) Flâneur jovial/seu canto/enche de encanto o meu dia/Preciosa ilusão de alegria/como criança saltando à corda/brinca/com as leis do fim». Tenho uma paixão pelos melros.
AMG - Entre a vida e a morte, o princípio e o fim. Talvez por isso a citação de Keats que surge nos dois últimos livros: «Itinerários» e «O Pavão Negro»: «Pensar é encher-se de tristeza». Porquê? Tem a ver com dimensão de finitude?
AH - Talvez, e com a ideia de sofrimento. Fui uma grande leitora de Keats. Talvez seja o que diz Cioran, essa aspiração ao conhecimento nunca alcançado: «Pensando em ti eu sofro: a prática das coisas/é um penoso mistério/uma veleidade/no breve travo da memória», escrevo em «Itinerários». Afinal, estes itinerários são mais pungentes do que eu pensava! (risos).
AMG - Aparentemente há uma leveza nesse livro, mas é trágica. Na sua obra, tudo está labirintica e ironicamente ligado. Há uma consciência da morte (a dos outros e a nossa) e a lucidez de saber que o poeta se transforma no seu próprio espólio...
AH - Eu sei que «Caminho só/ímpar/viúva/Um pombo cor de cobre aproxima-se:/olha-me um instante/e depois afasta-se/para sempre.» («Itinerários») Já na «Rilkeana», dizia: «caminho solitária/apoiada só na minha ironia» (risos). O que vem ao de cima é sempre o sentimento trágico da vida, porque nunca nos saciamos. Depois de amarmos, sofrermos, não temos nada. Diante de nós, o desaparecimento.
AMG - «Nunca mais se ouve o que é inaudível»?
AH - O invisível, o inaudível... Mas não queria dar a ideia de uma pessoa triste. Sou lúcida, isso sim, dinâmica, vital, tenho uma enorme energia física e de acção no real.
AMG - É intolerável a «intensidade do sentir?»
AH - Sinto intoleravelmente. Sinto com uma intensidade tal que as pessoas se assustam, por isso não deixo que se aproximem muito e desapareço sempre primeiro. Sou muito atenta, vejo as pessoas excessivamente, registo tudo. Tenho uma câmara invisível, depois afasto-me e, no meu «replay», apanho as coisas. Não me esqueço. Quando me tenho de separar de alguma coisa, fico doente, porque não me sai da memória. Da beleza também. Um pôr de sol dá cabo de mim por dias inteiros.
AMG - Que distância vai da Ana Hatherly de «Eros Frenético» à Ana Hatherly dos últimos livros?
AH - Trinta e tantos anos. Muita coisa mudou. O poema que dá o título ao livro «Eros Frenético» teve um impacte negativo tremendo. As pessoas estavam habituadas a falar do amor num enquadramento romântico, do século XIX. Esse texto é erótico, mas a imagística é a da máquina. Isso ofendeu muita gente, como se o corpo não fosse uma máquina, uma máquina sofredora. O poema é intensíssimo.
AMG - E subverte o romantismo: «Eles estavam ali em frente um do outro/no silêncio da sua morte/ocupando diferentes espaços»...
AH - Há sempre essa solidão, porque não se ama nunca, só se deseja, como digo numa tisana. Há subversão nesse livro, mas com outra forma de sentir, utilizando novas metáforas. Fui atacada, mas de uma maneira ainda mais violenta quando peguei na Leonor («Leonorana»). Adoro Camões, admiro-o e conheço-o, ensinei-o durante vários anos na faculdade, mas quis desmontar o mito. O país não perdoou, só perdeu com isso.
AMG - Não há vanguarda sem tradição...
AH - E o meu mal é conhecer relativamente bem a tradição cultural portuguesa, tenho, portanto, consciência da responsabilidade de a continuar, sabendo que há tantos gigantes. Lanço-me, e nisso sou como os barrocos, não tenho medo. E depois sofro as consequências.
AMG - Como viveu a criadora no mundo académico?
AH - Só fui para a Universidade como professora depois do 25 de Abril. Já tinha uma carreira como escritora subversiva e fui aceite com alguma dificuldade. Escolhi uma área proibida de especialização, considerada das menos notáveis da cultura portuguesa. Muita gente se esquece que Padre António Vieira e D. Francisco Manuel de Mello são os exemplos máximos da escrita do barroco em Portugal. As pessoas passam por cima disso. Entusiasmei-me, apaixonei-me e dediquei-me completamente, tendo conseguido, apesar de tudo, merecer algum respeito. Quando editei a revista «Claro-Escuro», ficou bem evidente que havia uma dimensão que as pessoas eram obrigadas a respeitar. Isso facilitou a minha inserção. Mas durante muito tempo, não podia sequer mencionar o meu trabalho experimental. Tudo o que tinha feito décadas antes de entrar para a Universidade, prejudicava a minha imagem. Diziam que eu era demasiado original. Isso tudo já passou e a minha alegria é ter conseguido formar alunos, hoje meus discípulos, que me estimam. Para eles trabalhei.
AMG - Enquanto criadora, sentiu-se sempre mulher? Há, a seu ver, uma criatividade especificamente feminina?
AH - Senti-me sempre profundamente mulher. A mulher é muito diferente do homem. O criador não tem sexo, porém, a criatividade não tem nada a ver com isso: há, no entanto, um carácter específico da personalidade feminina. Nisso sou exemplo típico. As mulheres são mais audaciosas. Mesmo caladas, e se analisarmos bem a História, são audazes. A mulher é muitíssimo mais forte, e eu sou uma mulher muito forte, porque faço da minha fragilidade força.
AMG - Em «O Mestre», escreve que muitas vezes os seres são claros e translúcidos por serem primários e que, à medida que vão evoluindo, tornam-se opacos. Nesta fase da sua vida e obra, sente-se como?
AH - Para mim, sou transparente, para os outros, mais opaca, porque têm dificuldade em abarcar a totalidade das minhas facetas. Não diria que sou opaca, mas poliédrica. Nunca ninguém tem a certeza absoluta de que lado vou estar. Nem eu.
AMG - Bataille escreveu que poesia que não se eleva até à impotência - é vazio de poesia. Concorda?
AH - A afirmação pode ser lida de várias maneiras. Se eu disser que não consigo atingir o sublime, isso também pode ser entendido como forma de impotência. No fundo, é o problema do conhecimento; nunca conseguimos atingir o limite do poder do criativo. Nesse aspecto, há sempre falta.
AMG - Qual é, para si, o maior motivo de riso?
AH - Há muitas formas de riso e de rir. Entre o rir e o sorrir, existe um espaço extremamente complexo. Não cultivo o riso, cultivo a ironia. A ironia não chega a ser riso, também não é sorriso, estando mais próxima do sorriso do que o riso. O riso, subjacente a alguns dos meus textos, é uma forma de ironia, manifestação pouco comum na tradição portuguesa. Quando se diz rir em português significa algo em que não me incluo de maneira nenhuma, embora possa rir com os amigos. Existem alguns sorrisos na minha obra, riso não.
AMG - Vive rodeada de quê? De palavras?
AH - Também.
(FIM) |
| posted by George Cassiel @ 11:53 a.m. |
|
|
|
|
|
GEORGE CASSIEL
Um blog sobre literatura, autores, ideias e criação.
_________________
"Este era un cuco que traballou durante trinta anos nun reloxo. Cando lle
chegou a hora da xubilación, o cuco regresou ao bosque de onde partira.
Farto de cantar as horas, as medias e os cuartos, no bosque unicamente
cantaba unha vez ao ano: a primavera en punto."
Carlos López, Minimaladas (Premio Merlín 2007)
«Dedico estas histórias aos camponeses que não abandonaram a terra, para encher os nossos olhos de flores na primavera»
Tonino Guerra, Livro das Igrejas Abandonadas |
| |
|
|




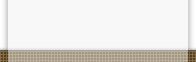





Gostei de ler.